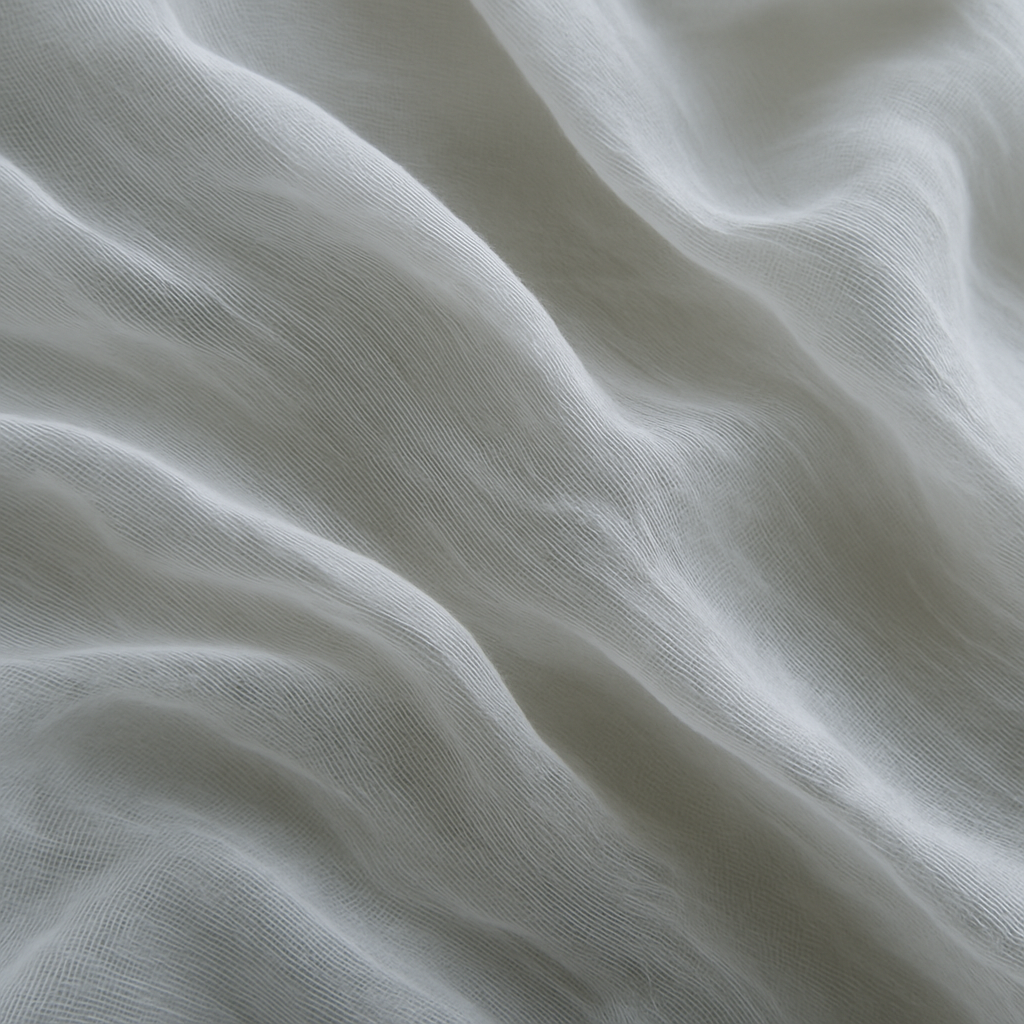
Imediatamente após o cessar dos estrondos, o que se seguiu foi uma sucessão de tentativas — umas falhas e vaporosas, como quem entende a delicadeza de um véu, outras robustas e eficientes, mas não completas.
Sou aromaterapeuta especializada em bem-estar familiar. Seria de esperar que, em casa de ferreiro… Não que não tenham havido muitas inalações conscientes. Mas, justamente por ser, modéstia à parte, muito boa no que faço, eu sabia, ainda naquela noite, que aquele dia tinha o potencial de se tornar um grande trauma na nossa história. Tudo dependeria do que viria depois. Porque trauma não é o que acontece, é o que fica — as marcas, as interpretações.
Nos dias seguintes, estabeleceu-se um ciclo estranho: entre apertar refresh compulsivamente em sites de notícia, treinar uma IA para me ajudar a filtrar informações relevantes e acolher meus filhos. Nem sempre nessa ordem, nem sempre com a importância bem definida.
Em algum momento, noite adentro, quando tudo parecia silencioso demais, oferecendo um contraste gritante com o que se passara poucas horas antes, percebi que tudo também estava escuro demais — minha rua, a cidade, o céu. A lua minguante, no seu auge, escondia-se, e tudo parecia afundar no breu.
Sempre fui fascinada pelos movimentos lunares. A lua minguante, aquela que puxa a seiva de volta às raízes, nos convida a mergulhar para dentro, a chafurdar nas profundezas de si, buscando respostas para perguntas que, à luz do dia, nem ousam sair do inconsciente.

Na manhã seguinte, funcionava como uma máquina.
Escrevi o texto anterior (clique aqui para ler), como quem expele o que ainda resta da noite escura.
Escrevi num frenesi.
Editei e re-editei.
Lapidei o texto como quem minera um cristal e, na brutalidade da pedra que sangrou da terra, vê a forma de uma estátua.
Fui esculpindo com palavras os breves momentos de terror que ainda vibravam em mim.
Mas, aos poucos, uma vergonha silenciosa se instalou.
Vergonha por ainda estar trêmula.
Vergonha por ter medo.
Comecei a repetir, como um mantra: “não foi nada”. Toda vez que algum sinal de emoção surgia, eu o sufocava com esse mantra.
Era só um ataque coreografado, como filme de Sessão da Tarde.
Não houve perigo real.
Não caiu bomba.
Não houve mortes.
Não foi nada, certo?
A quem eu perguntava, não sei dizer — provavelmente buscava saber se aquela lua minguante teria deixado sementes escondidas nos fundos da minha mente. Alguma resposta. Algum entendimento. Porque, afinal, os mísseis não eram para nós. Havíamos previsto isso, conversado exaustivamente, delineado nossos limites, ações combinadas que seriam executadas diante de cada cenário esmiuçado. Eu não fui pega de surpresa.
Ainda assim, meu corpo sabia do quase.
Minha carne contava a história de novo e de novo, e eu assistia às notícias chegando, confirmando que o perigo tinha terminado.
Talvez, pela minha história forjada desde nova no perigo, meu corpo não tenha esquecido.
Meu corpo seguiu alerta.
Preparado.
E não me deu descanso.
Em noites que mais pareciam um borrão, em vigília sem fim.
Ou talvez tenha sido que foi real, sim — houve luz, houve estrondo, houve explosão no céu.
Meu corpo não reagia a um perigo por pouco evitado,
mas ao peso completo do que poderia ter sido.
Junto com a repercussão do meu texto, vieram também, de mãos dadas como irmãs, as comparações:
“Isso não é nada comparado a tal lugar.”
“Nem aconteceu nada, imagina se fosse de verdade.”
Recebi relatos emocionados, pessoas profundamente tocadas. Mas também li discursos inflamados, como se minha dor fosse uma audácia. Como se ser crua fosse um desrespeito.
Eu já sabia dessa possibilidade.
Sensível como sou, já esperava.
Como se fosse preciso pedir licença para sofrer.
Como se minha dor tivesse que passar por alguma fronteira geopolítica para ser válida.
Precisei de toda grama de integridade para não cair nesse jogo.
Para não permitir que meu relato, minha vivência, minhas memórias fossem lavadas pela ideia de falta de sangue. De que há uma hierarquia.
Sem hierarquias,
só respeito.
Porque a verdade é que meu corpo viveu uma guerra, mesmo que simbólica.
E parece que meu coração, de fato, aprendeu uma nova batida.
Meu medo era legítimo.
Meu amor era legítimo.
Minha vulnerabilidade, também.
E agora, aos poucos, sigo voltando.
Não à normalidade, porque ela já não é mais a mesma,
mas à tentativa de estar inteira de novo.
De confiar no chão.
De confiar no tempo.
De confiar em mim.
A semana que seguiu foi a mais longa do ano.



Uma resposta
Contra fatos não há argumentos.
Como assim “nem foi tanto assim”
Com q direito negamos a dor ou, o desespero do outro
Meio insano isso. É preciso vivenciar então pra, só então mensurar a intensidade da dor do próximo.